 Resenha do livro
Resenha do livro
Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy[i]
GIROUX, Henry A.; DIMAGGIO, Anthony. Fascism on trial: education and the possibility of democracy. 1. ed. Nova York: Bloomsbury Academic, 2024.
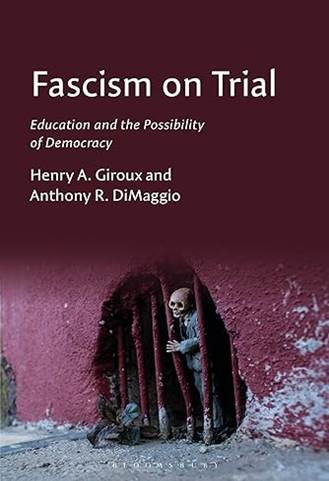
Leandro Castro Oltramari
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Forianópolis, SC– Brasil
lattes.cnpq.br/9393667745928718
Henry Giroux é um educador conhecido no Brasil, principalmente por ter uma relação próxima e seguir o pensamento da Pedagogia Crítica de Paulo Freire e da Escola de Frankfurt. Possui uma série de publicações no campo da Educação, Currículo e Políticas Públicas Educacionais. Na obra aqui resenhada ele divide a autoria com Anthony DiMaggio, professor de Ciência Política na Lehigh University. DiMaggio mostra interesse também pela educação, mas tem se dedicado a estudar especificamente a política americana.
A obra aqui apresentada, intitulada Fascism on trial: education and the possibility of democracy, vem na sequência de livros já publicados anteriormente por Henry Giroux como Pedagogy of resistance (2022) e Insurrections (2023), ambos problematizando o papel da educação e as políticas neoliberais e conservadoras de extrema-direita.
Na primeira parte do livro, intitulada Fascist Nightmares and the Cult of Violence, os autores discutem as características do pensamento extremista, que apontam como uma das características da cultura norte-americana e do crescimento do fascismo nos Estados Unidos. Com isso, acabam atribuindo à internet uma avaliação muito negativa, pois, principalmente depois de seu advento, há uma espetacularização do fascismo e da ausência de crítica sobre o que isso representa. A princípio, parecem entrar em discussões de juízo de valor, mas vale dizer, como já aponta Cesarino (2022), que a internet e seus algoritmos propiciam e promovem discursos extremistas ou mesmo de desqualificação da ciência e ideias que afrontam o sistema democrático de qualquer nação. Giroux e DiMaggio remontam neste capítulo a uma discussão que é crucial e que aparece em outras publicações anteriores já mencionadas aqui: o caráter político da educação. Para os autores, existe um esquecimento desse elemento fundamental para a disputa política, o caráter de projetor de utopias da educação. Para os autores, os partidos de esquerda esqueceram isso, transformando a mídia em uma máquina de falta de utopias. Sim, aqui surge uma quase resignação, como aponta Fischer (2020) em seu Realismo Capitalista.
Na parte 2 do livro, intitulada Neoliberal Fascism, Cruelty, and Street Politics, os autores apontam como a cultura dos Estados Unidos está fundada em uma base de violência e tortura, transformadas em espetáculo. Revelam que existe uma insensibilidade e mesmo crueldade de políticos do Partido Republicano contra imigrantes e grupos minoritários. Concluem que a política fascista é contra a ideia de contrato social, é uma política da barbárie. Nessa parte, eles fazem uma consideração interessante e importante: afirmam que aquilo que se vive hoje é um fascismo neoliberal. Declaram isso a partir de uma discussão baseada na lógica individual extrema e no pensamento de supremacistas brancos, mas que não utilizam mais a lógica do passado.
Na parte 3, intitulada The Language of Fascism, iniciam com uma discussão criticando principalmente a cultura militarizada e armamentista, difundida hoje entre os estadunidenses. Foi possível ver isso recentemente, com o atentado contra o ex-presidente e candidato às eleições de 2024 Donald Trump, em um comício na Pensilvânia. Os autores apontam que a retórica da guerra é usada com recorrência por muitos políticos republicanos e é a principal estratégica da ideologia fascista. Isso faz conexão com a obra de Umberto Eco (2018), que aborda o caráter quase repetitivo das ideias fascistas, a despeito de todas as mazelas que o fascismo já produziu. Para os autores, o neoliberalismo fascista coloca a violência como uma performance dramática, que por fim acaba envolvendo as pessoas em um sistema de quase entretenimento pela violência, que ocupa um lugar de deslocamento das emoções de insatisfação contra o próprio capitalismo em algo palpável e objetivo, renunciando, assim, ao pensamento crítico e à transformação social do sistema.
Sobre a parte 4, intitulada Fascism’s Fundamentalist Passions, apontam como as políticas fascistas do neoliberalismo têm fomentado uma verdadeira repulsa às políticas sociais. Para os autores, o fascismo utiliza uma estratégia de apagar a memória, possui uma nostalgia sombria, capaz de fazer com que o presente não possa olhar criticamente para o passado, considerando isso quase como se fosse um crime. Com isso, os ataques à memória social e histórica vão tensionando e fazendo um ataque direto aos direitos humanos, à cidadania e à democracia.
Na quinta parte do livro, Fascism’s Attack on Political Agency and Historical Memory, continuam a explorar a estratégia política do apagamento da memória, por vezes, trazendo argumentos já desenvolvidos anteriormente. Revelam que parte dessa estratégia vem disfarçada como patriotismo, com a ideia da defesa de uma honra americana e de sua constituição como povo, exclusivamente branco, desqualificando outras populações que também formaram aquela nação. É apontada aqui, de forma muito freireana, a importância do conhecimento para garantir a agência dos sujeitos sobre a realidade social.
Na parte 6, intitulada American Society and the Turn Towards Fascism, desenvolvem os argumentos anteriores que apontam como a sociedade norte-americana foi se constituindo como uma tendência fascista. Com estratégias que colocam a política como um espetáculo bélico e raivoso, espalha-se uma lógica de precariedade e crueldade neoliberais. O capitalismo fomenta uma política racista de descartabilidade, e uma celebração do nacionalismo e supremacia brancos, masculinos e cristãos. Giroux (1997) já escreveu atribuindo aos professores o papel de intelectuais públicos, que estes seriam capazes de realizarem uma leitura crítica sobre a realidade, além de terem um olhar ético capaz de provocar resistência ao sistema político do neoliberalismo fascista. Ele fala na necessidade de os educadores auxiliarem no desenvolvimento de uma visão anticapitalista. Mas essas afirmações parecem estar muito mais no campo do desejo utópico do que de uma real condição desses profissionais.
A sétima parte da obra traz a influência que o fascismo tem sobre a educação. Nesse capítulo, os autores apontam que existe uma tentativa de nazificação da educação nos Estados Unidos. É citado o exemplo do governador da Flórida, Ron DeSantis, que está fazendo movimentos extremistas contra a educação pública no seu estado. Ele tem travado uma batalha para acabar com a liberdade acadêmica e faz isso perseguindo professores, proibindo livros e discussões que, para ele, apresentem caráter não conservador, como por exemplo, as discussões de gênero, principalmente a pauta LGBTQIAPN+.
Na última parte da obra, as Considerações Finais, não são identificadas questões novas, além daquelas já devidamente apresentadas. Apontam que os princípios que faziam a democracia ser como um sinônimo de capitalismo não existem mais. O Neoliberalismo tem, cada vez mais, se afastado dos princípios democráticos e se aproximado de políticas mais autoritárias, que em nada se relacionam com a democracia. O neoliberalismo cristaliza o poder político e econômico nas mãos da elite financeira. Além disso, essa mesma elite detém não apenas o poder sobre o dinheiro, mas sobre a cultura e sobre os projetos de intervenção social. Assim, apontam que para combater o fascismo neoliberal é necessária uma luta para a constituição de uma democracia socialista.
A obra vem na tendência de intelectuais que têm acusado o momento delicado que as democracias vivem no mundo. Frágil, assediada e tensionada, ainda assim, ela é discursivamente disseminada como uma bandeira a qual todas e todos dizem defender e um valor supostamente inquestionável, mas com um sentido muito próprio, personalizado e individualista. Os autores são ávidos em mostrar como isso se apresenta nos EUA, mas, apesar disso, suas propostas de enfrentamento, quando vêm, são bastante vagas e muito pontuais. Como por exemplo, no caso da educação, cobrando que professores sejam operadores de uma educação crítica. A obra vale a leitura para compreender por quais caminhos anda a mais autoproclamada democracia do mundo. Se as democracias morrem, não sabemos. Mas que elas definham, podemos ter certeza!
Referências
CESARINO, L. O mundo do avesso: verdade e política na era digital. 1. ed. São Paulo: UBU, 2022.
ECO, U. O fascismo eterno. Rio de Janeiro: Editora Record, 2018.
FISHER, M. Realismo capitalista: é mais fácil o fim do mundo do que o fim do capitalismo. São Paulo: Autonomia literária, 2020.
GIROUX, H. Os professores como intelectuais públicos: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas,1997.